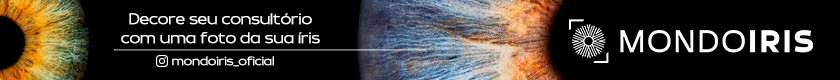Saúde é bem-estar biopsicossocial, e não somente ausência de doença. Para que isso ocorra de fato, é preciso considerar os aspectos biológicos, psicológicos e sociais de cada indivíduo. Nesta repercussão da entrevista no Programa RX – Por dentro da sua próxima receita médica! com o pediatra Olaf Kraus de Camargo, professor associado da Universidade McMaster, o oftalmologista Paulo Schor exemplifica grandes nomes que há muitos anos já identificavam a necessidade de uma maior interação entre profissionais da saúde e pacientes, e como isso impacta diretamente na próxima receita médica.
Segundo Schor, Kraus abriu as portas para um fator importante na prescrição dos medicamentos e na relação que os médicos têm com os seus pacientes, e como eles transmitem aos pacientes, ou às pessoas em geral, as informações necessárias, e isso é denominado de educação médica. O “Olaf está agora em uma prestigiosa universidade canadense, que é a McMaster University; ele passou pela pediatria social, que não é algo muito comum, porque no Canadá existe um histórico de pacientes pediátricos fazendo parte dos próprios tratamentos”, conta o especialista.
Ele explica que lá existe uma organização chamada CHILD–BRIGHT, que envolve as mães dos pacientes nas pesquisas clínicas e nos tratamentos dos seus filhos, e isso faz com que os médicos tenham uma efetividade e uma adesão ao tratamento muito maior, melhor e mais personalizado. “Não à toa, o Olaf foi para esse lado vindo já da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que possui um Departamento de Medicina Social e de Pediatria Social muito atuante”, afirma o médico, salientando que vale a pena a leitura de um artigo muito recente de Kraus, publicado no jornal Medical Science Educator, de 2020 (https://link.springer.com/article/10.1007/s40670-020-01003-1).
Conforme ressalta o especialista, o artigo aborda muito as competências que os médicos precisam ter no século 21 e que podem ter a ver com o que foi abordado nos anos 1900, por William Osler, um médico canadense e um dos fundadores de uma das instituições hoje mais prestigiosas e badaladas do mundo, a Johns Hopkins, dos Estados Unidos. “Por acaso minha filha está fazendo um mestrado em saúde pública na Johns Hopkins, e me conta bastante das coisas ruins da instituição, não somente das coisas boas”, comenta Schor, destacando que Osler foi a pessoa que tirou o estudante de medicina da aula teórica e o colocou à beira do leito. “Isso não era uma prática comum naquela época, nos anos 1900, os estudantes ficavam muito mais nos livros do que à beira do leito”, informa.
Ele diz que hoje essa atitude é totalmente inconcebível. “Aliás, atualmente, a gente vê a qualidade das faculdades de medicina pelos hospitais que elas têm relação”, analisa o médico, esclarecendo que uma boa faculdade de medicina tem um bom hospital por trás, que seja diversificado, com bons preceptores – que são os profissionais responsáveis pelo treinamento dos médicos/estudantes – e com recursos que não precisam ser os melhores recursos tecnológicos do mundo, mas precisam ser muito bem utilizados. “O Osler também criou o conceito de residência médica e de internato também”, revela, apontando que o canadense incentivava os pacientes a fazerem parte do tratamento, além de ensinar os médicos não a tratarem da doença, mas sim do paciente com a doença.
“E esses conceitos, que teoricamente são humanitários, mas acredito que eles são quase pré-humanitários, estão retomados nesse artigo do Olaf, que também cita um outro grande nome da saúde pública, que é o George Engel”, observa. O médico pontua que já em 1970, Engel falava sobre saúde biopsicossocial, que entrou como definição de saúde na Organização Mundial de Saúde (OMS). “Portanto, não é só a doença em si, não é só o mecanismo da doença, mas é como nos relacionamos com ela dentro do ambiente no qual estamos inseridos, com a moral que temos naquele momento e a cultura do local. Esse é o contexto do biopsicossocial”, acrescenta.
Para Schor, Olaf traz a perspectiva de funcionalidade em vez de doença, definindo funcional como algo que está sendo suficiente para alguém em um determinado momento, enquanto disfuncional tem a ver com necessidade, alguma coisa que não está cumprindo o seu papel necessário e tem a ver com escuta do paciente. “Eu não consigo determinar, como médico, o que para um paciente é estar funcional ou disfuncional. Eu realmente preciso ouvir o paciente. E preciso fazer um pacto com ele, em que seus valores sejam levados em consideração e o meu julgamento e minha expertise médica entram do outro lado. E depois, eu preciso saber se o meu interesse como médico é o mesmo interesse do paciente”, relata, pontuando que havendo uma coincidência desses dois fatores, o tratamento terá mais sucesso e o paciente se sentirá melhor acolhido.
O oftalmologista esclarece que esse conceito é muito diferente da relação médico-paciente que havia no passado, baseado no “eu mando e você obedece”. “Isso em geral não funciona, funcionava no passado, e essa talvez seja uma grande lição que tivemos da conversa com o Olaf. Que não é só a ciência e evidência clínica que é importante, isso certamente é o basilar, não vamos propor coisas que não possuem evidência clínica nenhuma e que não tenha a ciência por trás, mas também não vamos ficar só na evidência clínica e na ciência”, diz. Ele revela que não existe boa prática de medicina com má evidência, porém existe má prática médica com boa evidência clínica. “Se não conseguirmos traduzir para o paciente aquilo que foi publicado do que as pessoas descobriram e já conhecem, não estaremos praticando uma boa medicina , analisa.
De acordo com o médico, não existe um sistema de avaliação hoje nos rankings que se veem em relação às faculdades de medicina pela transmissão da informação ao paciente, pelo entendimento do paciente sobre o que lhe foi transmitido. “Precisaríamos ter isso mais incorporado no currículo médico. O máximo que se consegue nesses rankings é uma repercussão de quanto determinada instituição é reconhecida na nossa comunidade, em geral por outros médicos e pelo nome dela”, observa Schor, citando como exemplo a USP, que é muito lembrada e reconhecida. “Dessa maneira, ela tem uma posição boa no ranking. E tem várias outras faculdades que são menos lembradas e a posição é pior, no entanto, ser lembrada não significa necessariamente que o médico tem uma boa relação com os seus pacientes, que exista o bom entendimento do paciente”, opina.
Para Schor, isso é fundamental para poder haver uma aceitação e efetividade do tratamento, uma medicina mais humanizada, com o paciente participando de todos os processos. “Retomando essa questão de como fazemos para as pessoas serem envolvidas no processo e que esse processo de prescrição de receita seja mais bem recebido, que os pacientes efetivamente usem o que sugerimos a eles, tem uma outra história também do Johns Hopkins, do William Mosler, que eu gostaria de comentar”, afirma o especialista, observando que o Johns Hopkins não possui apenas coisas boas, como todas as instituições, e que é vista pela população de Baltimore, a cidade na qual se encontra, de um jeito muito dual, dicotômico.
O oftalmologista destaca que a Universidade Johns Hopkins é uma instituição que produz pesquisa, tanto em saúde pública como pesquisa clínica, pesquisa básica, e que possui laboratórios fantásticos. “Um dos laboratórios que eu visitei faz desdiferenciação de células. Eles têm o maior banco de cérebros de pessoas mortas dos Estados Unidos e pegam pedacinhos de uma membrana que envolve o cérebro, tiram as células de lá e desdiferenciam, ou seja, tiram a característica daquela célula e a desensinam a ser uma célula de membrana de cérebro”, conta, ressaltando que depois colocam essas células em um ambiente de cultivo para que elas virem novamente células que fazem o restante do cérebro (várias camadas do cérebro). “Dessa forma, há um desenvolvimento genético, bioquímico e de biotecnologia sensacional”, avalia.
Ao lado dessa tecnologia toda, o médico aponta que existe uma cidade muito desigual, com áreas de pobreza importantes que assustam os brasileiros. “Em uma cidade dessas, como se convive com esse desigual e uma tecnologia fantástica? Isso, infelizmente, é frequente em vários locais. Claro que existem inúmeras exceções dos dois lados, existe uma filosofia individualista de algumas culturas, um pouco mais do que em outras”, palpita, ressaltando que não adianta somente o médico/cientista dar aulas em salas de universidades, e também não resolve só produzir paper, precisa levar para a população uma saúde pública adequada. “Existe nisso a implementação da ciência para a população como um pilar importantíssimo da absorção da tecnologia que pode ser melhor desenvolvida”, informa.
Ele revela que no Hopkins existe uma percepção de que se tem várias pesquisas clínicas, porém sem uma devolutiva dos benefícios dessas pesquisas para a população. “E a gente tenta bravamente mostrar esses benefícios, por exemplo, agora na newsletter do Hospital São Paulo tem uma sessão a respeito das vantagens da pesquisa clínica que está sendo desenvolvida, isto é, como que as pessoas podem se beneficiar disso”, comenta. Um exemplo citado por ele são os inúmeros médicos que foram voluntários da vacina contra a Covid-19, sabendo que poderiam ter uma chance de 50% de cair em um grupo que não iria ser imunizado. “Mesmo assim, eles seriam beneficiados, e a sociedade também, se a pesquisa da vacina fosse finalizada mais rapidamente”, acrescenta.
“Sabendo, portanto, que teremos um retorno dessas pesquisas, começamos a criar um círculo de confiança, e essa confiabilidade parece fundamental para que exista uma transferência de vontade, um compartilhamento de interesses, por isso não vou confiar em quem não está pensando no meu bem-estar e em quem não está fazendo uma aliança comigo”, continua o especialista, esclarecendo que isso é algo que faz parte integral da relação médico-paciente e que é o grande segredo da humanidade. Para ele, Osler foi, antes de tudo, um fundador do humanismo, que introduziu isso de um jeito ou de outro naquele momento na prática médica. “Mas a gente vai muito além disso e hoje a confiabilidade sela a relação humana”, complementa.
O médico afirma que as pessoas ainda não confiam em robôs não supervisionados, que elas querem uma supervisão humana. “Por pior que seja o ser humano que está por trás de um robô, se o robô fizer alguma bobagem por erro de programação, tem alguém lá para consertar. Eu nunca entendi muito bem a Boston Dynamics, que é uma empresa de engenharia robótica, porque eles colocam os robôs sempre com a forma de um animal muito bravo, agressivo, tipo da coisa que eu não vou confiar para fazer uma cirurgia no meu olho”, observa, enfatizando que a confiança ainda é uma palavra que irá definir durante muito tempo quem vamos querer que trate de nós. “Queremos alguém em quem possamos confiar, que queira o nosso bem, e que passe a total impressão de que está disposto a nos dar o melhor possível”, conclui Schor.
Fonte: