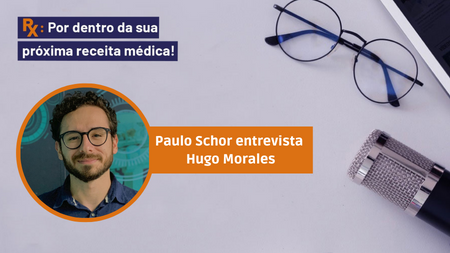Com as habilidades de ouvir as necessidades das pessoas, Flávia Kolchraiber, enfermeira, educadora, pesquisadora e membro da ONG IBEAC – Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, ganhadora do Selo de Direitos Humanos e Diversidade em 2021, faz questão de exemplificar a necessidade do fortalecimento da educação em saúde nesta entrevista realizada pelo oftalmologista Paulo Schor, no dia 19 de abril de 2022, no Programa RX – Por dentro da sua próxima receita médica!
Flávia enfatiza que deve ser uma educação que ouve, acolhe e transpira junto à comunidade e não uma educação bancária, limitada apenas ao conteúdo recebido. Além disso, ela indica leituras, como os livros de Paulo Freire, e observa que as políticas públicas precisam olhar as comunidades e as potencialidades de cada território. Confira abaixo a entrevista na íntegra com a enfermeira e educadora.
Paulo Schor: Hoje eu vou receber uma enfermeira que tem bacharelado não só em enfermagem, mas em ciência aplicada. Ela tem mestrado em epidemiologia, trabalhou na Fiocruz, instituiu várias unidades básicas de saúde, trabalha na periferia de São Paulo e foi vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), em saúde coletiva e da família. A Flávia Kolchraiber veio da Universidade Federal de São Paulo, da Escola de Enfermagem da Unifesp, e tem muita história para contar. Seja muito bem-vinda, Flávia, e muito obrigado pelo seu aceite.
Flávia Kolchraiber: Eu que agradeço o convite, Paulo. Estou muito honrada por estar aqui com você e também com as pessoas que estarão nos escutando. Queria fazer uma observação, eu já não estou mais como vice-presidente da ABEn, que é uma casa querida, e estar dentro da ABEn é uma necessidade, acredito, que toda enfermeira precisa passar, para entender um pouquinho e compartilhar com a causa da enfermagem. Mas acho que já vem por essa pegada de como eu enfrento tantas lutas e levanto bandeiras que acredito que fazem diferenças no mundo.
Schor: Queria saber, Flávia, de onde vem a sua vontade, essa comichão de fazer a diferença via assistência de saúde. Mas eu vou já me adiantar e falar em via assistência básica de saúde, e me corrige se não é isso.
Flávia: Muito boa pergunta. É uma pergunta que sempre as pessoas me fazem e que não tem como responder sem voltar para a minha trajetória de vida. Apesar de eu ser uma mulher branca, loira, eu nasci na periferia, na década de 70, no Grajaú, na zona sul de São Paulo, então eu cresci em comunidades periféricas. Passei a vida toda vivendo nas comunidades periféricas e quando eu ingressei na universidade, e na universidade pública, que eu sou egressa da Unifesp, eu vi que ali tinha que dar um retorno para a sociedade. Era muito investimento, quatro anos vivendo ali dentro, estudo integral. E acredito que essa minha trajetória de nascer na periferia, ter muitas influências positivas dentro da universidade, e ter várias referências na saúde coletiva, como Ana Brêtas, Monica Antar, Lais Helena, professoras que realmente fazem parte dessa história da saúde coletiva e, principalmente, da construção do SUS, eu fui me inspirando de que o lugar que eu tinha que devolver tudo aquilo que eu aprendi e que eu vivi era para a própria periferia.
Então, a minha história nasce muito dessa essência do que é a universidade, porque eu entendo que quando entramos na universidade, estamos devolvendo algo para a sociedade. E, nesse sentido, eu acabei voltando para a periferia para trabalhar na atenção primária, muitos anos chamada de atenção básica, e acho que tem vários autores que falam que de básico não tem nada, tem muita complexidade, muita subjetividade, mas que com aquela coisa do senso comum, decidiram chamar de primário, e que começa ali, como porta de entrada para o nosso Sistema Único de Saúde, que é um orgulho para todos nós. Então, saindo da universidade, eu não tive dúvidas, fui lá para a atenção primária, para o SUS, porque aquilo é o que eu acredito. E dentro da atenção primária, eu comecei como enfermeira assistencial e fui fazendo essa trajetória da assistência e depois para gestão, gestão de serviços de saúde, e sempre lá dentro, lá que eu falo é no território da zona sul de São Paulo, que é onde eu nasci e cresci, e depois, como diz o Criolo, atravessei a ponte e vim para o lado de cá. Eu não moro mais na periferia, mas eu não consigo sair da periferia, ou tirar a periferia de mim.
Daí eu voltei com essa intuição, como é que a gente pode contribuir para melhorar mesmo o serviço de saúde, não só do ponto de vista da assistência, mas de pensar essa saúde integral, de pensar aquilo que eu aprendi na universidade, de uma aprendizagem muito freiriana também, de como é que a gente consegue estar na comunidade e fazer com a comunidade? Construir essas devolutivas ou essas soluções de problemas com a comunidade? Ou seja, problemas de saúde, não só em relação ao que, geralmente, a gente aprende, mas com um enfoque maior nessa questão biomédica, de que saúde é ausência de doença, e parece que a gente só fica nesse caminho, daquelas coisas que são bem estigmatizadas e que acabam não produzindo tanto efeito do ponto de vista coletivo mesmo. Vai ser sempre uma coisa pontual, individual, não mobiliza mudanças para além do individual, mudanças coletivas que transformem mais.
Schor: Para quem não conhece, a zona sul de São Paulo é a maior “macrorregião” que nós temos, é muito espalhada e super heterogênea, tem duas represas no meio e tem muita coisa que acontece na zona sul. Em relação a essa heterogeneidade, de vez em quando, nós falamos, quando se trata de saúde, que “em São Paulo é assim, mas no interior do Piauí…” Mas não tem que ir para o interior do Piauí, temos muito mais perto da gente problemas, provavelmente, mais complexos por conta dessa heterogeneidade. Eu acho que o entendimento profundo dessa coisa tão heterogênea em um espaço físico tão próximo, na minha cabeça, é um dos pontos, e depois eu queria que você comentasse um pouco disso, de confusão também no entendimento e, talvez, na dificuldade do gerenciamento dessas regiões.
E isso passa muito pela minha cabeça, será que quanto de regionalização, não só territorial, mas do problema regional, não seria necessário para tratarmos as diferenças de modo diferente, em vez de falar “você está em São Paulo, não precisa de ajuda.” E aí a gente vai ver isso, por exemplo, levando para outro campo completamente diferente, que é a Fapesp. Tem essa história de “ah você tem Fapesp não precisa do CNPq”, e a Fapesp fala: “Você tem CNPq, não precisa da Fapesp”, e aí a gente fica na mão e aqui eu também vejo um pouco disso, já que estamos em São Paulo, teremos que ser tratado mais ou menos do mesmo jeito como esse pessoal da Oscar Freire, porque não é zona sul também? Como é isso? Porque estando lá, tenho certeza absoluta que é completamente diferente a sua visão. Faz sentido isso da regionalização do problema, por conta dessa história de você impactar mais gente?
Flávia: Excelente pergunta. Vou começar pela Fapesp e a questão do CNPq. Estou defendendo o meu doutorado agora e eu falo que é bem assim mesmo. Acho que enquanto cientista e também enquanto enfermeira, enquanto ser humano, eu fico muito pensando, obviamente, que é muito mais fácil a gente pegar o pacote e ver qual é o problema que está dando mais problema. Vamos resolver isso de baciada, vamos colocar lá e tentar solucionar. É a forma mais fácil, é a forma que as políticas públicas conseguem solucionar uma grande parte dos problemas. Obviamente que tem essa questão aí da cidade, que São Paulo realmente, quando a gente pensa em gestão pública, é um município super privilegiado; temos, de fato, um serviço de saúde aqui muito estruturado. Eu lembro que quando eu ainda era enfermeira, às vezes eu via as pessoas ganhando esses flyers de divulgação, de prevenção de doenças e tal, e eu via as os agentes, médicos, qualquer pessoa jogando fora, desprezando. E eu ficava pensando em quantas pessoas de outro município, de outra realidade, que poderiam estar aproveitando.
Isso acontece em todas as realidades e São Paulo leva essa fama por ser esse “município rico” que consegue solucionar, regionalizar os problemas e tentar solucionar da melhor forma. No entanto, o que eu fui me deparando dentro da atenção primária? Eu acho que quando a gente olha a história do SUS, quando a gente começa a olhar as necessidades de saúde a partir das demandas das comunidades, que foi o início do SUS e depois a estratégia de saúde da família, o programa de saúde da família, começam a vir ideias de que elas poderiam ser regionalizadas, mas com setores menores. Mas privilegiar no sentido de a comunidade tem tal demanda, então vamos fazer essa escuta e vamos dar esse retorno. E aí tivemos um momento muito bom, da década de 1990 até 2007, tivemos um pouco essa possibilidade de troca com a comunidade, de realmente ouvir quais são as suas necessidades.
Porque não é só ir lá pelos indicadores, pelo que os sistemas de saúde falam ou ler os sistemas de saúde como se eles fossem seres humanos. Uma coisa que a gente aprendeu agora na pandemia é que o ser humano não é só mais um número. E eu acho que acabamos, dentro dessa época que eu falo que foi uma ascensão, com a estratégia de saúde da família, e eu vivi isso e depois a gente entrou em uma lógica de produtividade. Então, atualmente, você, que é médico, faz umas 400 consultas por mês ou mais, eu estou desatualizada desses dados, e a enfermeira, 200 consultas, mais a visita domiciliar etc., que irá gerar um dado muito legal, muito impactante, mas que quando você está lá localmente, não conversa com essa proposta regional. Contando aí um pouco mais da minha trajetória, foi o que me mobilizou a sair dos serviços de saúde e atuar com uma organização da sociedade civil que trabalha com direitos humanos, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (IBEAC). Porque eu não conseguia mais me ver dentro dessa lógica de olhar aquelas propostas regionais, que era uma coisa muito macro e que perdeu essa potência de ouvir as diferenças e criar propostas que consigam garantir uma atuação nossa, para que as estratégias sejam realmente voltadas para esse universo mais local.
E a gente tem o SUS para mostrar que dá para fazer dessa forma e não entrar nessa lógica produtivista simplesmente. E temos tido uma experiência lá ainda na zona sul, mas na região de Parelheiros, que é muito criar política pública não governamental, mas a partir de necessidades que são do território, olhando tanto o lado vazio do copo, que a gente fala que são esses indicadores, essas taxas de doenças crônicas, de mortalidade etc., quanto o lado cheio do copo, que são essas potências, território extremamente diverso, como você trouxe aí, entre represas, de abastecer a cidade, não só com água, mas com ar também e, principalmente, a potência das pessoas que estão lá e que geralmente não são escutadas, não participam ativamente das tomadas de decisões para o próprio território, ainda que tenham as propostas regionais.
Schor: Você chegou em um ponto que é onde eu queria chegar, que é a IBEAC, tenho falado com bastante gente e visto muita proposta pré-concebida ou mesmo micropreconcebida. Não é que eu vou dar um remédio porque tal país está dando, mas porque esse microgrupo, em algum momento, decidiu que esse tipo de terapêutica era adequado, esse jeito de você tomar remédio é adequado, esse custo é adequado, e você fez um estudo a respeito daquela população e, de algum jeito, você entrega isso até relativamente personalizado para uma população que não usa, e não usa porque não veio dela, porque ela não foi consultada.
Temos várias evidências disso, desde vacina até programa de diabetes, que não funciona porque a população está alijada no processo, e é uma desconfiança minha e você está, pelo jeito, corroborando em relação a essa direção, de que se a população for efetivamente escutada no detalhe, no varejo, e não no atacado, dá para a gente pegar isso e fazer disso uma política pública, nem que seja uma coisa regional e, talvez, até temporal, e aí queria que você falasse um pouco disso também, porque essa é a impressão que todo mundo tem me passado e eu estou achando que você está falando exatamente isso, isto é, vamos construir políticas públicas sim, mas não precisa ser uma política pública que irá durar 50 anos, porque a coisa muda, e nem algo que seja para toda a zona sul de São Paulo é uma personalização passível de escalabilidade, que são palavras completamente antagônicas.
E você, enquanto epidemiologista, está acostumada a tentar ir para a escala, a tentar colocar as coisas todas em uma perspectiva, como a que você falou, de impactar muita gente, para que tenhamos uma saúde possível de ser transformadora, com um custo possível de ser pago. A gente fala muito do SUS, mas eu vi o nascimento do SUS lá na década de 80, eu estava em Ribeirão Preto, e você também viu as coisas acontecendo, mas acho que isso se perde, essa estratificação do SUS, a hierarquia, o acesso universal, a gratuidade, tudo isso vale a pena a gente repetir como sendo bases para a construção de coisas em cima, mas não quer dizer que a construção seja estável e acabe por aí, ela tem que ser constante. Talvez você pudesse falar um pouco disso, como é que você vai dar a base e, com o papel de gestora e de design de políticas públicas, incorporar isso de um jeito dinâmico e não de um jeito que vai caducar o que já nasceu caduco?
Flavia: Olha, essa entrevista está mexendo com tudo aqui dentro, viu? Foram passando vários filminhos aqui na minha cabeça, primeiro porque eu lembrei de uma grande amiga, médica sanitarista, a Isamara Gouvea, com quem eu trabalhei muito tempo. Ela falou uma vez uma coisa para mim que ficou para sempre, que é o fato de termos que lutar pelo SUS sim, mas também temos que entender que as coisas não podem ser religiosas, rígidas, só daquele jeito. E como é que a gente consegue mudar sem se apegar ou ficar naquele movimento conservador que vai te oprimir, que vai, com todo o respeito às religiões, te colocar em um padrão e que não vai ter essa possibilidade de riqueza, de abrir para a diversidade, para as diferenças que existem, desde culturalmente, politicamente e todos os outros “mentes” que a gente possa imaginar.
Então veio essa história de que a gente realmente tem que falar do ponto de vista de inovação, não dá para ficar estático. No entanto, aí é um valor meu, não podemos esquecer de onde a gente saiu. Os princípios do SUS temos que ter sempre, dialogar e discutir sobre os princípios e realmente validar, ou então a gente muda os princípios para dar uma atualizada, e a gente é bom em atualizar artigos, trazer várias referências, mas cita, meio que religiosamente, os princípios, e na prática efetiva isso é muito distante. Portanto, essas duas coisas que eu acho que são importantes, a gente tem que olhar realmente para os princípios enquanto sociedade ou falar que ainda não alcançamos, mas vamos lutar para conseguir, ou falar que não vamos alcançar, e vamos mudar esses “paranauês” aqui, porque senão não vai dar certo esse “gingado”.
E aí, nesse sentido, eu acho que esse olhar cuidadoso e de convite para dialogar sobre as nossas práticas, enquanto gestores, é que é a tal da inovação, porque a gente está sendo convidado o tempo todo para se descolar daquilo que é humano e virar máquina, são os sistemas, são os programas. Não sei se você já teve essa experiência, de ser gestor do SUS de alguma unidade de saúde, você fala às vezes “para que tanto?” Às vezes um programa, um software, tem a mesma resposta que o outro já tem. E fora essas coisas regionais, que são as milhares de planilhas que o povo, com medo também de perder poder, exige mais informações e isso sobrecarrega. Se a gente pensa na pirâmide, não gosto muito do exemplo da pirâmide, mas estamos no modelo capitalista, então toda a pirâmide do gestor, desde regional, municipal etc. até quem está na base, vai fazendo com quem está principalmente no campo se torne mais máquina ainda.
Eu vivenciei isso, principalmente nós que saímos dessa formação acadêmica da saúde, que aprendemos tanto sobre essa valorização da vida, e a gente se distancia disso, estamos voltando para a lógica do que o mundo fala, que é muito inovador da tecnologia dura, então vamos colocar mais programas e incentivar mais as pessoas a serem máquinas. Eu sempre falo de um estudo que já deve estar até meio desatualizado, de Oxford, que eles pegaram o banco de segurança privada dos Estados Unidos, pegaram todas as profissões e começaram a analisar aquelas que em 20 anos poderiam ser substituídas por máquinas. O estudo é de 2013 e aí você fica muito assustado, porque são inúmeras.
E a gente olha hoje para um monte de referências pelo mundo em que as pessoas e os serviços estão sendo substituídos por robôs, por inteligências artificiais. Eu estou trazendo essas questões porque justamente acho que isso está muito conectado. Como é que a gente vai solucionar problemas que são complexos e que são de seres humanos se estamos trabalhando no atacado, se estamos trazendo propostas, criando políticas públicas que, a princípio, funcionam, mas que são estagnadas, não são alteradas e tem coisa que falamos “por que a gente não para?” E não é porque não tenha estudo que sugere alguma mudança, porque tem inúmeros, eu acho que talvez tenha estudo até demais.
Os governos não conseguem localizar qual é a melhor resposta, porque os interesses são muito focados também naquilo que ele vai ganhar na eleição seguinte para mudar. Pode ser bem louco o que eu vou falar, Paulo, mas o Ailton Krenak/ fala muito disso, que a vida não é útil, a gente tem que parar com isso, porque essa coisa da utilidade, do consumismo, daquela coisa do fazer, do fazer, isso distancia a gente daquilo que realmente acreditamos. E a gente vai vendo os resultados, um número gigante de profissionais adoecendo; este município, que é riquíssimo e consegue bancar as organizações sociais, não consegue dar conta de contratar médicos para estar na periferia, portanto, é um diagnóstico de que realmente precisamos fazer uma parada para olhar para isso.
Schor: Indo um pouquinho para a história da atenção primária e da tua experiência com as estratégias de saúde da família e, tentando fazer de novo coro com o que você tinha dito, de que saúde não é só o remédio, qual é o grande modificador, na estratégia de saúde da família, na vida das pessoas? Qual é o remédio que a saúde da família entrega?
Flávia: Bom, eu vou falar no passado. Aliás, antes de eu falar no passado, quando as pessoas falam desse tema, eu dou aquele Google e ponho exatamente as palavras que a pessoa está pedindo, para ver o que vai aparecer, porque eu acho que é uma métrica que dá para a gente fazer muita reflexão do que realmente a sociedade está falando. E quando você falou em entregar saúde, eu vi que só aparecia produto, não tinha nada, não tinha vida, não tinha vínculo, conexão, somente produto. Eu não vou negar que talvez atrás de algum produto não exista uma conexão, uma vida, humanidade etc., mas sempre estamos apresentando a entrega de produtos.
Nessa lógica de estratégia de saúde da família, eu tive uma experiência muito boa, de entregar a saúde muito ligada à educação em saúde e é por isso que eu vou falar no passado, porque a educação em saúde, e aí eu estou falando de educação de saúde voltada para a prevenção das doenças e para a promoção da saúde, mas uma educação de saúde que foi muito trabalhada e não só nas universidades, mas dentro do próprio SUS, de ser uma educação em saúde freiriana. A gente teve esse benefício, esse privilégio de ter tido Paulo Freire aqui, dialogando nas secretarias por aqui e muitas pessoas que foram contemporâneas ou seguidoras dele falaram “olha, educação popular é que traz essa transformação”. Então eu vivi isso, de pensar essa entrega desse “remédio” ou dessa saúde a partir da educação em saúde.
Eu lembro de histórias, quando eu estava como enfermeira numa UBS no Jardim Gaivotas, no Grajaú, na frente da represa Billings, em que estávamos discutindo em equipe o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), que já nem existe mais, substituíram e se perdeu um monte de informação. E a gente apresentou para a comunidade os dados e o que tinha era sempre aqueles dados só de doença, e a gente, enquanto equipe de saúde, fez várias propostas. E aí umas 80 pessoas, o que já é um milagre, ter uma comunidade que se mobiliza, que está junto de um planejamento com uma equipe de saúde, falaram “olha, achamos muito bonito o que vocês estão trazendo aqui, parabéns, mas a gente quer falar de um problema que está afetando a gente, que são os ratos, porque tem muito rato aqui no Gaivotas, é perto da represa, o povo joga lixo.” E eu pensei, meu Deus, olha o que é escutar a comunidade.
Daí caiu a nossa ficha, ficamos com cara de besta, a gente nunca tinha imaginado isso e eles ainda vieram com uma evidência: “A gente assistiu a reportagem de que em São Paulo tem para cada habitante sete ratos, mas aqui a gente tem mais do que sete, então precisa fazer alguma coisa.” Eu estou trazendo essa história só para pensarmos no que é realmente a demanda local e como é que a gente pode entregar essa saúde. E não tem outra maneira se não for escutando, se não for pela educação em saúde; dessa forma, eu acredito que para realmente mudarmos o que está aí hoje é fortalecer a educação em saúde, mas não essa educação bancária que a gente, principalmente, nas universidades recebe muito, que é uma pessoa do saber que vai lá e traz toda a informação e deposita em você e você não aproveita nada daquilo. Mas essa educação que é em roda, que escuta, que acolhe e que transpira junto com a comunidade para realmente arranjar soluções. E não é fácil, isso dá trabalho.
Schor: Essa expressão eu nunca tinha ouvido. Adorei educação bancária, essa é fantástica. Eu tenho uma experiência legal para compartilhar, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), durante a pandemia, resolveu fazer um programa de teleorientação e eu me voluntariei. Eram dois ou três plantões, e eu ficava de tarde conversando com pacientes que estavam em lugares distantes, porque eles também se credenciavam para receber conversa com oftalmologistas. E um dos que eu atendi estava deitado numa rede da região norte do Brasil e ele tinha glaucoma e estava muito preocupado, porque ele usava dois colírios para glaucoma e um deles tinha acabado, e ele precisava perguntar para alguém se ia ser gravíssimo ficar sem pingar o segundo colírio, porque precisaria pegar uma lancha para viajar 12 horas para pegar o colírio, ou se ele podia esperar dois ou três dias.
E quando eu falei que não tinha nenhum problema esperar dois, três, cinco dias ou uma semana, ele começou a chorar. Porque essa informação estava completamente impossível dele conseguir de qualquer outra forma. Portanto, essa parte da informação, de comunicação, de awareness em saúde, faz uma total diferença. Por isso que eu te falei que eu tenho um preconceito positivo nesse sentido, de que não adianta você dar o remédio sem explicar para a pessoa, ela tem que entender, ela tem que topar, tem que ser naquela hora, tem que ser daquele jeito, não é de cima para baixo que acontece, e eu acho que você traz esses exemplos, essa atuação bastante desenhada e, principalmente, a posição que você está aqui, de epidemiologista, gestora, e isso de você ser uma desenhista de política em saúde, olhando para o varejo. Eu acho que isso é manter a humanidade dentro de um professoral.
Para mim foi muito gostoso ouvir toda essa conversa. Eu acho sim que a gente pode e consegue conversar durante muito tempo sobre isso, me interessa muito e eu acredito que o cientificismo que leva à medicalização pura tem o seu por que de acontecer, mas ele em absoluto está descolado do resto. E se for para colocar dinheiro, provavelmente se nós fossemos gestores, a gente iria colocar 80% do dinheiro em outro lugar e 20% do dinheiro na descoberta de novos fármacos, porque eles melhoram sim a vida das pessoas, mas tem coisa que melhora bem mais a vida e de muito mais gente. Então, Flavinha, suas últimas palavras e já te agradeço muitíssimo.
Flávia: Só gostaria de deixar aqui duas referências que, para mim, me ajudam a nortear, primeiro o Paulo Freire, que é ele quem fala da educação bancária. Eu acho que todo gestor de saúde precisava ler um pouco Paulo Freire para entender, voltar nessa história. E tem um chileno, que é o Max-Neef, que fala dessa questão das necessidades fundamentais humanas e eu tenho aprendido com esses coletivos que eu já trabalhei a olhar a saúde do ponto de vista do cuidado integral, porque isso vai trazendo não só aquelas coisas básicas da habitação, da saúde, do emprego, mas traz a humanidade, o amor. Quando olhamos para esse referencial, conseguimos ampliar um pouco mais nosso olhar e desejando que a gente possa ter mais possibilidades de dialogar com mais estrategistas nas políticas públicas, para que realmente possamos fazer “com”, é um princípio bem freiriano. A gente não consegue fazer de outra forma se não for COM a comunidade, olhando as potencialidades que cada território, que cada comunidade tem. Só tenho a agradecer por esse convite. Desculpa ter falado demais, mas fico à disposição para mais bate-papo sem tempo limitado.
Schor: Eu adorei. Você não falou demais, é um assunto que tem muita coisa para ser dita e muito mais coisa para ser ouvida. Então te agradeço muito, Flávia, muito obrigado.
Fonte: