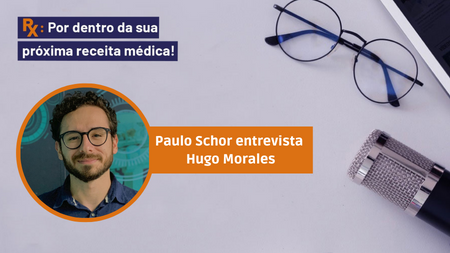Foi ao arnodia10dejunhode 2022a entrevista doPodcast RX –Por dentro da sua próxima receita médica! como psiquiatra Rodrigo Bressan, pesquisador e presidente do Instituto Ame sua Mente, que foca na mudança da cultura da saúde mental noBrasil, desenvolvendo ações de conscientização e implementação de políticas de ajuda a pessoas com transtornos mentais. “Rodrigo fala com tanta emoção das conquistasdos projetos em que se envolve, que nos faz achar impensável que o preconceito seja um problema muito grave em saúde mentalaindahoje”, ressaltao oftalmologistaPaulo Schor.
De acordo comBressan, a pandemia da Covid-19 ajudou a dar visibilidade à necessidade dos cuidados nessa área, pois traz interação com o ambiente e o isolamento à tona, estressando sobremaneira o sistema todo. Ele observa,ainda,a importância de um modelodoponto devista educacional que possibilite autoconhecimento, desmistificação e empoderamento da população para cuidar da própria saúde mental desde muito cedo. Para o psiquiatra,quando um indivíduo e seu entorno têm a percepção do seu estado, aumentamaschancesdaeventualprocura por um profissional de saúde e recebimento de um diagnóstico precoce, possibilitando um tratamento mais eficaz. Abaixo, publicamos o episódio completo da entrevista comoespecialista.
Paulo Schor – Hoje eu vou conversar com um amigo meu de longadata daUnifesp, queé o Rodrigo Bressan,muita gente no universo da psiquiatria e da medicinaoconhece. Rodrigo tem um currículo enorme e muitíssimo qualificado, tem mais de 350papersetem patentestambém. Suaformaçãofoina Santa Casaedepois ele veio para aUnifesp, na épocaEscola Paulista deMedicina; fez um mestrado muito interessante em epidemiologia,que mistura várias coisas, e noseudoutorado ficou em Londres estudando psicofarmacologia, imagem molecular e depois veiopara aEPM, jáUnifesp,paradesenvolverseutrabalho noDepartamento deP siquiatria. Tem muita coisa interessante e legal paraa gente conversareeu já começofalando deuma publicaçãoqueaborda o temaesperançaemumarevista reconhecida por pares no meio acadêmicocomouma das mais importantes do mundo. Eeu voufalar bastante com ele deesperança como remédio. Rodrigo,muitoobrigadoporsua presença, vai ser muito bomconversarcom você.
RodrigoBressan –Eu que agradeço, Paulo. É omaior prazer estar aqui e sou um grande admirador doseu trabalho também. Só a ideia desse podcast já me encantou pela originalidade.
Schor–Acho que a gente pode começar conversandosobre opaperque você publicou,que euacho que éalgoque a gente não conversa,uma coisa que tem bastante atuação na história da humanização da medicina,de ensinarnamedicinaaser mais próximo d opaciente, fazer tratamentos até cirúrgicos de forma mais humanizada. Mas não é issooque você está falando,você está falando de outra coisa, de doença mental,e queria muito que você comentassepouco qual foi o contexto dessepapereporonde você está navegandoecomo que chegou aí?
Bressan –Então,Paulo, é engraçado,porque a gente tem essa formação da escola,que tem uma clínica forte,eagente vêpaciente, atende, temuma preocupação real com melhora, e não só com melhora de sintomas. Eteruma formação emneurociências às vezes confunde, atéque ponto a neurociência entra na prática clínica. Neurociênciaem psiquiatria,aaplicação não é tão grande assim, é bem distal. Quando voltei da Inglaterra do meu PhD, comecei a trabalhar com algumas pessoas que tinham esquizofrenia,e foi muito interessante, porque umadelaseu convidei para dar aula,o Jorge Assis,quefalavasobre o sintoma, porqueissoé meio imponderável, o que é loucura,o que éouvi rvozeseetc. E aí, quando umindivíduoque tem a doença fala para eles o que éa doença, é muito legal, porque a gente tem essarealizaçãoassimétrica, nós aqui,os deuses,eos pacientes lá embaixo,unscoitados. E quando elesviamum esquizofrênico,que eles achamolixodo mundo,começar a dar aulas para eles,um cara que tem uma fleuma, fala super bem,elesse chocavam e perdiam muito do preconceito.
Opreconceito é um problema muito grave em saúde mental,desde o meu PhD,até antes,eu trabalho com farmacologia, especificamente antipsicóticos, e fui fazendo muita formação,acompanhei a trajetória de novas medicaçõeseagente faz pesquisa clínica também. E temduasquestõesque são muito bemestabelecidas em esquizofrenia:para aqueles que não têm uma boaadesão e que podemter um impacto muito grave na doença, eles precisam usar a medicação injetável de longa ação; eparaaqueles que têm resistênciaaotratamento, quesignifica tomarduasdrogas e não responder,precisam ter acesso a uma medicação chamadaclozapinaque,do ponto de vista dapsiquiatria,a de longa ação éum pouco mais trabalhosa,porque você tem que convencer a tomar uma injeção,ecom essa medicaçãovocê tem que ser um pouquinho mais médico, porque pode teragranulocitose,portantotem que fazer hemograma e tem que lidar com questões médicas.
O governo, Paulo, disponibiliza isso há 20 anos e as pessoas não usam no Brasil, está nos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e de graça, com controle especial, e a gente fez levantamentos, foi nos CAPS ver, pegava as pessoas que tinham esquizofrenia refratária, via quem usava a clozapina e observou que 78% eram negligenciados, e o único motivo real para isso é ideologização da psiquiatria, “ah não, isso não é cerebral”. Também por uma má formação e um certo preconceito com a evolução da esquizofrenia, “não vai dar certo mesmo, essas pessoas são graves, para que eu vou gastar meu tempo . E essa história da esperança em relação ao paciente é uma coisa que foi me chamando a atenção enquanto eu ia me formando clínico. Os mais jovens tinham mais abertura para entender o quão importante era um investimento, mas os mais velhos tinham muita dificuldade. Aí fui fazer um sabático, passei um ano no Instituto de Psiquiatria de Londres, onde eu sou professor também, e aí eu falei, eu vou estudar a esperança.
Eu estava também em uma fase pessoal de pouca esperança e resolvi me aprofundar no tema e é engraçado porque é um constructo. Esperança é diferente de otimismo, otimismo é a crença de que no futuro as coisas vão dar certo, você deve ter um olhar diferente, acreditar que pode dar certo, mas que, para isso, precisa estabelecer alguns caminhos e eles precisam ter uma duração. Dessa forma, você tem que insistir na história, então é preciso uma certa resiliência, e o exemplo que eu costumo dar é o seguinte: o indivíduo vai para uma festa, ele está lá com a roupa chique e tem que atravessar um pedaço a pé, é um cara otimista e ele pensa “não vai chover, vamos embora”, e alguém que tem esperança pensa “eu acho que não vai chover, mas por que eu não levo o guarda-chuva?” Então é um constructo, e é mensurável, tem ali algumas perguntas que você mede.
É muito interessante isso em psiquiatria, porque em diabetes eles usam muito isso para avaliar otimismo e esperança. Eles pegavam os jovens com diferentes pontuações de otimismo e esperança e verificavam o quanto eles usavam o glicosímetro e a hemoglobina glicada, ou seja, avaliavam o quanto eles estavam se tratando. E aí você vai ver que o otimismo não tem impacto nessas duas medidas, mas quando você mede a esperança, pode ver que tem impacto sim. Dessa forma, a construção de esperança dentro do indivíduo é absolutamente a chave para ir em frente. E eles vão além, eles começam a falar que se a esperança é uma questão, então vamos fazer um screening para verificar quais pacientes têm baixa esperança e, eventualmente, uma intervenção para lidar com questões ligadas à esperança, daí não fica uma coisa meio etérea essa história de esperança.
E tem um chinês lá que resolveu medir a esperança em vários jovens. E ele usa uma medida de ressonância funcional, que é sofisticada, mas que basicamente mostra a sincronização da ativação de diferentes regiões do cérebro. E o que ele percebeu é que aqueles traços de esperança mais elevados tinham uma modulação da ativação de amígdala pelo córtex pré-frontal muito mais eficiente. Basicamente, ele consegue modular através do pensamento racional voluntário a sua ansiedade, que está completamente ligada ao medo, esse disparo, e faz sentido, porque o conceito de esperança tem uma base neurobiológica. Certamente que isso tem que ser replicado, mas foi aí que eu percebi que na clínica, e isso é uma coisa também bem estabelecida, a gente vê na literatura de portador, o que acontece é que quem tem a doença olha para o médico e o médico faz aquela cara de descrença. Na evolução de esquizofrenia, a gente já sabe o que vai acontecer.
Quando você define esquizofrenia, tem um gráfico de funcionalidade e é todo mundo lá no fundo, no buraco, funcionalidade com 40 anos é zero e o sujeito fica desempregado. E não é verdade, Paulo, eu tenho paciente com doença relativamente grave sendo médico, CRM autorizado, pagando contas, cuidando da fazenda. Portanto, não é essa a evolução, mas o médico é ensinado assim. Tem uma coisa que é chamada de The clinicians illusion, que é a ideia de que nós não conhecemos o fenômeno inteiro. Quando você tem um olhar de epidemiologista, enxerga o fenômeno, porque tem pacientes que melhoram, há uns 20% de remite, e como clínico você não vê esses 20%; aquele que é grave, aquele que reinterna, que não responde, então, nós temos um viés e por causa dessa ilusão, ficamos mais pessimistas, porque não conhecemos bem isso, e criamos uma desesperança.
E essa desesperança cria uma profecia autoproferida, “ah eu acho que vai dar errado, eu não tenho esperança de que melhore” e eu passo isso para a família e para o paciente. Daí o paciente começa a tomar remédio, mas tem efeito colateral e fala “não vai dar certo mesmo, vou chutar o balde”. O paciente fica mais psicótico e aí tem mais dificuldade de interação social, é mais discriminado e volta no ciclo e tem uma evolução pior mesmo. Portanto, se você quer quebrar essa profecia, precisa olhar de um jeito diferente. Quando eu mandei o artigo científico para o British Medical Journal, eu botei um título chique que era “Esperança e a ciência por trás da arte da medicina” e o editor do BMJ, uma das revistas de maior impacto, resolveu mudar meu título e eu fiquei bravo com ele e o título que ele pôs foi “Esperança Terapêutica e aí ele manda essa: “Não tenha medo de usar.”
Eu tenho um amigo que tem esclerose múltipla e ele caiu na mão de um monte de charlatão e quando eu falei que a esperança era terapêutica e que ele não devia ter medo de usar, ele falou que não era verdade. Aí eu pensei “mas ele vem de uma experiência negativa, foi parar nas mãos de um monte de charlatão”, mas a gente agora estava falando de médico sério, de profissional que é rigoroso com as coisas e que tenta transmitir para o paciente o melhor que pode. Nós podemos conviver com a incerteza, mas não necessariamente com o lado negativo, mostrando o próximo passo. E a família me pergunta se o filho vai voltar a trabalhar, se o filho vai ter o segundo episódio psicótico. O próprio paciente me pergunta e eu falo que não sei. O fato é que pode, mas o que dá para fazer para não ter? Vamos trabalhar, essa é a ideia da esperança, vamos achar um caminho de trabalho e aí a gente vai construindo degraus.
Schor – E faz um coro absurdo o que você está falando com várias experiências que eu tenho tido ultimamente, e acho que é porque estou prestando mais atenção, o paciente até pergunta se vai dar certo, se não vai dar certo, e eu falo exatamente isso, que eu não sei, mas o que eu sei é que eu vou estar junto com você. O paciente se joga na hora que ele confia que nós vamos estar juntos e que você está investindo na conversa. O resultado é parte da brincadeira, não é o fim. E aí a gente fala muito que a medicina tem que ser vista como uma ciência de meio e não de fim. Temos que ver a coisa desse jeito, porque na hora que vemos como finalística e que a porcentagem é diferente, passamos a não investir mais e o paciente quer que alguém invista nele.
Bressan – Explica o que você chama de meio e não de fim. Vou aproveitar para ter aula aqui.
Schor – Eu chamo de meio e não de fim a ideia de que o indivíduo vem fazer cirurgia de miopia e ele quer que fique “zerado”, ele quer uma garantia do resultado. O resultado é algo que é a métrica, a régua, e que vai falar se deu certo, não deu certo, é um número. E aí você fala “eu vou fazer de tudo para dar certo, mas tem complicação no meio”, e o desespero é porque nós podemos ser julgados pela “sociedade”, é muito mais um fantasma de justiça por ter dado errado alguma coisa que deveria ter dado certo. Aí você pensa, mas tem um monte de outros condicionantes que podem fazer com que dê errado que não só a minha competência. Mas o que você está dizendo, acho que resolve tudo isso, que é ter uma boa relação médico-paciente, isto é, se envolver na história dele e estar junto com ele. Quando a gente desiste do paciente, vem o processo, isso é batata. Acontece sempre, mas quando você está junto, se ele for grudado comigo ou com quem teve o resultado ruim, isso não vira processo médico. Se não for grudado, o paciente se afasta e acabou a conversa. Ele não é mais teu amigo.
Bressan – Exatamente, gostei desse raciocínio de “meio e não de fim”, porque eu tenho também um raciocínio sobre medicina e ciência. As pessoas perguntam se a medicina é uma ciência; ciência nenhuma, medicina é uma prática, o que a gente faz é cuidar das pessoas, e ela é embasada por ciência. Ensaio clínico é um tipo de ciência, assim como a neurociência, imagem funcional etc. Todas as medidas fazem a ciência e isso para mim é importante, porque quando você fala de ciência é como se tivesse uma precisão, e na clínica, na prática, é diferente mesmo, temos que lidar com o imponderável.
Schor – Saber isso, refletir sobre isso, e poder passar para o paciente faz parte da tal arte da prática. Você fala bastante de prática no Prisma (Programa de Intervenção em Estados Mentais de Risco), deixa eu puxar uma coisa para o outro lado, Rodrigo, que eu tenho visto um monte e eu queria a tua opinião. Teste genético para droga psiquiátrica, drogas que modulam o humor. Estamos vendo isso acontecer, tem alguns laboratórios que oferecem. Isso é realidade? Vai ser por aí, não vai ser? O que você tem visto nesse sentido?
Bressan – É uma situação meio controvérsia, eu sou bem rigoroso com ciência e com o que eu aplico nos meus pacientes. Quando fazemos teste genético, estamos fazendo um teste genético para variações alélicas que codificam citocromos associados à metabolização. Estamos falando de farmacocinética, o quanto de tempo o tal do antidepressivo, antipsicótico fica no sangue. O que a gente está interessado quando fala de eficácia é a farmacodinâmica, funciona ou não funciona, como age no receptor e a repercussão que tem no cérebro. A farmacocinética, você sabe melhor que eu, não influencia a farmacodinâmica. O que eu acredito ser a chave da questão é o seguinte, primeiro há uma falsa crença de que nós temos que ter teste genético para ver se funciona. Para fazer isso, demos uma revisada nessa história, temos um laboratório de genética, isso é genética aplicada, e revisamos isso, mas você pode ter, para algumas situações, checar o nível plasmático ou tomar a decisão um pouco por aí.
Na clínica, e eu não acho que faça uma grande diferença, mas um monte de paciente meu tem uma enorme mudança quando sai do antidepressivo X e vai para outro, porque vê mais eficácia. Então, às vezes, a questão anedótica pode ser muito enviesada. O que acontece nesse tipo de teste é que ele gera um ar de cientificidade, então ele tem um efeito colateral positivo e eu não gosto muito disso. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com o imponderável, lidar com a incerteza. Para um médico, ele tem que ser seguro e ter uma situação de segurança em relação ao paciente, mas a segurança parte de um nível de incerteza. Ciência é estatística, é muita incerteza, portanto esse movimento é difícil de fazer e, por vezes, quando você tem um teste genético, você fala “ó a certeza aqui”. Enfim, eu sou crítico em relação a isso.
Schor – É uma resposta perfeita. Rodrigo, conversei há pouco tempo com o Daniel Sigulem e ele tinha uma resposta boa para essa história de se a tecnologia irá substituir o médico, e ele falava que nunca iria substituir essa coisa do médico dar um tapinha nas costas e falar “tá tudo bem”. Aí eu perguntei “Daniel, você continua com essa ideia?” Ele respondeu: “Não, não continuo não. Eu acho que a medicina é uma profissão em extinção e eu acho que o que vai sobrar é psicologia e um pouco de psiquiatria, mas também não sei por quanto tempo.”
Bressan – É interessante isso, porque quando ele fala de “tapinha nas costas” é o cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas é insubstituível no meu ponto de vista, e cuidar não tem especialidade, é tudo o que a gente faz, e não é só médico que cuida, existem um monte de outras situações no cuidar; mas para questões médicas, alguém que entende de medicina cuida melhor. É capaz de uma máquina chegar aos riscos, às chances, à conduta, infundir não sei o quê, passa por uma máquina que faz o diagnóstico e dá a terapêutica. Então, eu acho que isso pode evoluir muito nesse sentido sim, como a gente está vendo agora a inteligência artificial, por exemplo, atuar em especialidades como a radiologia. Eu trabalho na interface, com neuroimagem, há 20 e tantos anos, e a gente fala “putz, é impossível, ninguém vai chegar a um diagnóstico, ainda mais cérebro”, mas você vai vendo, vai aprendendo e vai ficando sofisticado.
Eu trabalho com espessura cortical e agora as máquinas fazem e entregam para mim pronto. Vai sofisticar e o homem é pior do que a máquina, na minha leitura; na implementação disso, eu não sei se vai dar para prescindir, talvez. Quando o Daniel fala de psicologia, é legal saber que tem intervenções psicológicas agora totalmente machine base. Nós já temos intervenções psicológicas totalmente baseadas em inteligência artificial e que possuem eficácia demonstrada, portanto isso já ocorre. Agora, isso ocorre para um determinado nível de sofisticação e intervenção psicológica, eu não acredito que isso funcionará para intervenções psicanalíticas, por exemplo, ou outras coisas. Algumas coisas em terapia cognitiva comportamental, por exemplo, vão ser muito bem implementadas, outras não. Mas na medicina como um todo, eu acho que sempre precisará de um maestro que faça a interlocução com o humano, é a minha impressão.
Schor – Rodrigo, você vai para esse lado nos teus projetos, que é a educação, você vai atrás disso, de educar e de transmitir. E aí você usa uma palavra que eu gosto muito, que é advocacy. Você quer falar um pouco disso? Eu acho fantástico, acredito que todo mundo tinha que grudar nessa palavra por diversos motivos, mas fala um pouquinho.
Bressan – Bom, por que eu comecei essa história? Eu trabalhava com esquizofrenia e nós montamos o Prisma, que é para atender pessoas em alto risco clínico, um paradigma mundial muito legal, e aí a gente começou na Unifesp, fomos pioneiros, e já tem mais de dez anos essa história. E eu fui para a Escola recrutar e falei “vamos ver se tem gente em risco na Escola.” Quando eu desci lá, vi que risco para esquizofrenia não era uma coisa que tinha muito sentido ali, eu vi que tinha um desconhecimento sobre saúde mental, tanto por parte dos alunos quanto dos professores e da formação dos professores. Todo mundo em saúde mental tem uma visão maniqueísta do tipo ou é aquela coisa zen, pensamento positivo resolve tudo, ou é aquela coisa horrorosa do esquizofrênico que matou não sei quem e outro que se suicidou de um jeito horroroso e etc.
O que acontece em saúde mental é que está tudo nesse miolo e a pandemia nos ensinou muito. Eu brinco que, com a pandemia, a saúde mental entrou pela porta da frente, porque todo mundo tinha um agente estressor e as pessoas começaram a falar do tema mais importante, no meu modo de ver, que é conhecer a própria saúde. Você tem que conhecer o seu corpo para prevenir infarto e isso é igual para a saúde mental. Claro, tem um nível de sofisticação diferente, a interação com o ambiente em saúde mental é muito importante, porque o cérebro é plástico, muda mais nos estágios precoces da vida, mas está mudando o tempo inteiro e é modulado por isso. Daí, a gente começou a fazer formação, os professores têm um lugar muito importante para falar disso e eu tive que aprender a me comunicar.
Isso porque dar aula para pós-graduando, para o médico, para sei lá quem, a gente dá, está na nossa prática, mas dar aula para o professor, levar informação que seja útil sem ficar arrotando conhecimentos, sem egotrip, e que realmente contribua para as pessoas, tive que trabalhar muito nesse sentido. O que foi legal é que a gente testou e viu que funciona e as pessoas pegam esse conhecimento e aplicam na vida, que é o ponto interessante. A gente fala de jovens, adolescentes, crianças, mas eles também aplicam para eles mesmos; 40% dos afastamentos de professores, que é uma taxa altíssima, são por depressão, então não dá para ficar ignorando essa história. Não dá mais para termos essa atitude preconceituosa e achar que isso é coisa de gente fraca. Aí nós montamos o programa Cuca Legal na Unifesp, em que treinamos 700 professores no Estado, um projeto bem legal.
Mas uma hora acabou a grana, e aí eu falei “vamos montar um instituto que seja uma ONG sem fins lucrativos”, e isso enriqueceu muito a minha nova perspectiva sobre isso, e eu vou te dar dois exemplos da medicina que tiveram muito sucesso. Quando você ensina que comer bem e fazer atividade física previne infarto, você empodera a população para lidar com essa questão. Tem gente que é obeso e não consegue mudar, é sedentário e não consegue mudar, esse é o lado negativo. Mas o que aconteceu, do ponto de vista populacional, é que todo mundo se deu conta disso e muita gente cuidou disso. Na verdade, a grande maioria das pessoas lida com essa questão no dia a dia, isso falando de infarto, mas câncer de mama, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eram aquelas mulheres terminais na enfermaria, uma coisa horrorosa, tinha muito estigma. E aí fizeram um alvo na camisa de mulheres bonitas, saudáveis e falaram “vamos cuidar dessa história.”
E o que aconteceu com câncer de mama? Ele veio para a saúde, todas as mulheres começaram a apalpar suas mamas para lidar com a possibilidade de doença. Só que em saúde mental é tudo no imponderável, as pessoas acham que mente é um negócio muito complicado, que psiquiatra “viaja”, psicólogo fala muito, não! É ponderável e dá para entender o processo. O modelo que a gente conversa sobre saúde mental não é um modelo de doença, é um modelo em que você entra no problema, no risco, e aí você atravessa para a doença. É como se tivesse apalpando o seu cérebro, a sua mente o tempo inteiro, “eu estou ficando muito estressado, estou ficando insone, a irritabilidade subiu demais, como é que eu vou cuidar disso?” O que acontece em saúde mental, Paulo, é que tem um monte de estratégia não médica que dá para fazer precocemente, por exemplo, conversar com pares é cientificamente comprovada a eficácia.
Portanto, existem inúmeras medidas em que você pode emponderar a população para cuidar da própria saúde mental e quando ela faz isso, percebe o começo da doença, diagnóstico precoce e tratamento mais eficaz. Esse modelo, do ponto de vista populacional, é muito importante, por isso, não adianta só formular coisas que possam ser incorporadas em política educacional etc. A gente precisa também de um instituto desse tipo fazendo advocacy, para que possamos falar de saúde mental com autoconhecimento, e com um nível alto de conhecimento e que possa desmistificar e diminuir o preconceito, e também com a ação do governo. Eu tenho pessoalmente uma experiência muito positiva com isso, a Mara Gabrilli, senadora tetraplégica, na época ela era deputada e me procurou para falar de esquizofrenia e eu dei uma entrevista no programa de rádio dela, e daí ela falou “legal, vamos fazer algumas coisas. Quero visitar o teu programa.”
Aí a Mara foi lá, viu o que a gente fazia, viu a seriedade do programa, falou “isso aqui é uma coisa muito séria” e chamou a gente para ser parceiro. Ela tinha a lei de cotas, que tinha emplacado para portadores de deficiências físicas, mas para quem tem esquizofrenia, é bipolar, tem depressão grave, não. Aí ela falou que queria trabalhar nisso seriamente e a gente foi consultor nessa história para disfunção psicossocial, porque é baseado em disability, em disfuncionalidade, e então nós fomos incluídos na lei. E depois a Mara acabou me dando uma medalha do mérito legislativo no Congresso Nacional. No começo fiquei meio ambivalente quanto a isso, mas depois eu achei legal, porque é um reconhecimento de uma coisa que a gente mudou a política mesmo, e isso eu acho que é uma coisa importante do que um instituto desse tipo pode fazer.
Schor – Tem passado pela minha cabeça um negócio que é o seguinte, Rodrigo, e faz coro com o que estamos falando. Eu acho que o Ministério da Saúde devia ter uma secretaria especial de atos terapêuticos, e não deveria ser o Ministério da Saúde, porque o MS é hoje só ato terapêutico, e de preferência de alta complexidade do hospital terciário, quaternário, tocado por nós, médicos, porque enquanto houver essa visão e essa formatação mental, a gente vai ter que continuar brigando, que é o que você está fazendo. Você está brigando para economizar dinheiro, para a qualidade de vida ser melhor contra um sistema que foi montado desse jeito. E eu vejo muito disso nessa ambivalência que eu tenho hoje com o Ministério da Saúde, sabe?
Bressan – Sim, eu concordo plenamente, estou imaginando esse olhar. Nós também trabalhamos em associações de pacientes que conseguem fazer pressão, porque tem um custo-benefício assustador, você investe em um e tem uma repercussão enorme. A Mara ajuda algumas associações, mas em esquizofrenia é muito difícil. Eu trabalho com as duas principais, ajudei a fundar uma delas, mas tem pouca força para buscar, fica muito à mercê de políticas que vão e voltam. Na época, tinham as melhores drogas para tratar e agora, para as doenças mais comuns e incapacitantes, você não tem drogas para depressão, por exemplo, que já tem genérico. Não dá para imaginar uma política que não ofereça drogas, tem algumas, as mais básicas, mas é como se não tivesse o segundo antibiótico para pneumonia, só tem o primeiro, ampicilina e só. Como assim? Você vai dar ampicilina e o resto do povo vai morrer de pneumonia? É isso o que acontece na saúde mental.
Schor – Eu atendia uma paciente que fez anestesiologia em Ribeirão Preto, mais ou menos na minha época. E aí ela veio para a consulta e falou que tinha um consultório que tratava de dor e que usa muito os derivados de Cannabis para dor e que a coisa está bastante adiantada e em países como Alemanha, por exemplo, é possível fazer prescrições com quantos terpenos você quer na manipulação para determinado paciente, coloca canabidiol, THC, terpeno. E aí eu trouxe isso para discussão em família e a conversa andou para o lado da ayahuasca, do Santo Daime, de raiz, aonde o povo tem começado a usar isso com algumas ações terapêuticas.
A gente sabe o quão difícil é fazer um extrato natural, ter bastante ciência por trás, porque tem um monte de impureza, um monte de flutuações de concentração, não conseguimos também fazer um estudo mais pontual. E tinha uma “cereja em cima do bolo”, que era o seguinte, a gente estava falando muito, e na minha cabeça, mais pragmática nesse sentido, falei que se eu soubesse exatamente qual era a fração que faz o efeito, que eu daria aquela fração para aquela pessoa. E aí uma das pessoas da mesa, falou “pois é, mas sabe que o que faz efeito em várias das situações é a viagem que o paciente faz, é quando ele dá o reset, quando ele desliga.” O que tem de ciência nessa história, Rodrigo?
Bressan – Ótima pergunta. O primeiro ponto é o seguinte, maconha tem THC, que dá o barato, tem canabidiol, que a gente conhece, é estudado, e a Unifesp é pioneira nessa história, e um monte de outras substâncias, como terpeno e várias outras. Maconha é uma coisa que está na moda, eu vou muito para Florença, a cada dois anos, onde tem um Congresso, e de repente tinha quatro lojas novas em Florença para vender coisas ligadas à Cannabis e lá não pode THC alto, então o que as pessoas estão vendendo nem é THC, nem é a droga, é a coisa da moda, o chaveiro, balinha. Lá nos Estados Unidos não, eles vendem a droga mesmo. O que eu quero dizer com isso? O que aconteceu é que existe uma suspeita de que a própria indústria da Cannabis vem promovendo uma diminuição de percepção do risco da droga, que é o que aconteceu com o tabaco, quando eles começaram a empoderar as mulheres, tipo “mulheres que têm opinião fumam” e depois eles começaram a segurar as evidências de que fazia mal. Foi uma indústria querendo ganhar dinheiro e que, de fato, ganhou muito dinheiro com essa história.
E eu tenho impressão que vai acontecer a mesma coisa com a Cannabis. Está mais do que demonstrado todos os problemas ligados ao THC. É possível usar como uma droga para ter prazer, mas tem que saber que tem um monte de problemas, portanto, você tem que responsabilizar e educar. Se você quiser liberar, que não é uma questão que eu posso dizer, mas o que acontece é que as pessoas chamam de Cannabis Medicinal. Lá em Ribeirão Preto desenvolveram um anti-hipertensivo do veneno da cobra que não teve patente e virou o captopril, que vendeu milhões. Em Ribeirão, a farmacologia é inacreditável e alguém fala sobre veneno de cobra medicinal? Ninguém fala de veneno de cobra medicinal. Já a Cannabis, porque é moda, falam.
Então, o que nós temos? Temos evidências de que o THC tenha poucas aplicações, como náusea e dor, mas de ciência, a aplicação é pequena. Com o canabidiol, o que acontece é que virou um modismo, e não só no Brasil, e as pessoas acham que porque tem na Alemanha, porque tem nos Estados Unidos, é algo sério, científico. Mito, a gente sabe disso. O canabidiol é um exemplo interessante porque é uma droga, possui efeitos colaterais, que são pequenos, mas pode ter alteração hepática dependendo da dose, e é fitoterápico fora do Brasil. Aqui no Brasil, o bom canabidiol, que é o que a gente prescreve, não tem THC. Para nós é muito importante não ter THC, só que para você separar uma coisa da outra é cara. Temos um da Prati-Donaduzzi aqui no Brasil, talvez tenha outros daqui a pouco, mas você compra baratinho nos Estados Unidos e em outros lugares, mas lá tem THC.
Aí é aquela história do vale qualquer coisa, mas se eu vou dar uma droga adjuvante para um paciente que não tem evidência científica e eu prescrevo, eu explico quais são os riscos, vou testar para ver se funciona mesmo, se vale ou não vale a pena, porque isso não é a panaceia universal, só que as aplicações de canabidiol estão virando uma panaceia universal. Mas você me fez uma pergunta com o Santo Daime, também conheço um pouco, a gente tem um convênio com a Johns Hopkins e eles estão testando lá, parece que tem um caminho, mas é a tal história, tem efeito colateral, tem que medir direito. O que está acontecendo na prática é que se coloca no patamar “medicinal” e as pessoas começam a usar e a achar que está tudo bem. Mas eu espero sinceramente que tenhamos frutos disso.
Vou te dar um exemplo de algo que deu frutos e eu acho isso muito interessante, porque eu trabalho bastante com isso também, que é a cetamina. A cetamina é um anestésico que em doses mais baixas gera um quadro alucinatório, e esse quadro alucinatório é um modelo de esquizofrenia, para você tem uma ideia, em que a pessoa ouve vozes, fica persecutória, faz um retraimento emocional etc. No meu PhD, estudei esse modelo da cetamina com uma imagem molecular de receptores NMDA, algo sofisticado. Mas o que aconteceu com a cetamina? Logo depois que eu acabei, houve uma hipótese bem interessante de que pessoas que estavam com risco de suicídio rápido, em horas caiu o suicídio com o uso da cetamina.
Então a cetamina funciona? Foi testado de verdade, bastante, e aprovou-se uma droga para suicídio e para a depressão resistente com um mecanismo de ação novo. E essa é uma droga alucinógena, só que ela entra pela porta da frente, ela é testada de verdade, e eu sei porque já testaram em milhares de pessoas. Qual é o risco a longo prazo, qual a eficácia, o que eu posso esperar, que tipo de dose eu posso usar e por aí vai, então, vira medicina de verdade. Tem protocolo e teve um impacto incrível na população, dessa forma, o que eu posso te dizer é que se algo for tratado como um modismo não vai a lugar nenhum. Se for tratado com seriedade pela ciência, e você precisa da robustez da indústria, das agências grandes de fomento, aí eu acho que tem caminhos que vão dar perenidade, ajudar as pessoas a longo prazo.
Schor – O que você resumiu agora de entrar pela porta da frente e profissionalizar é para mim uma palavra de ordem absurda. E o que você está dizendo do modismo, ele atrapalha mesmo ou pelo menos atrasa, tira o foco, e que se tiver uma coisa séria, e a seriedade é bastante quadradinha, é ciência, é evidência científica, não é achismo, é porta da frente, é outra conversa, isso eu acho que é uma função que nós temos. No fim das contas, se a gente tem esse monte de vantagem de publicação, de títulos, de pessoas que a gente conhece, é falar para o povo onde que é para olhar e onde que não é para se distrair. Então, isso eu acho que vale o ouro. Queria super te agradecer pela conversa. Eu adorei, dava para conversar por mais alguns dias sobre esse e milhares de outros assuntos. Espero que a gente repita isso. Obrigadíssimo pela entrevista Rodrigo.
Bressan – Obrigado Paulo. Também gosto muito de aprender contigo, essa perspectiva de colaboração com informação de qualidade é o que eu acho mais importante e acredito que está na tua missão aí também. Prazer, estou à disposição.
Fonte: